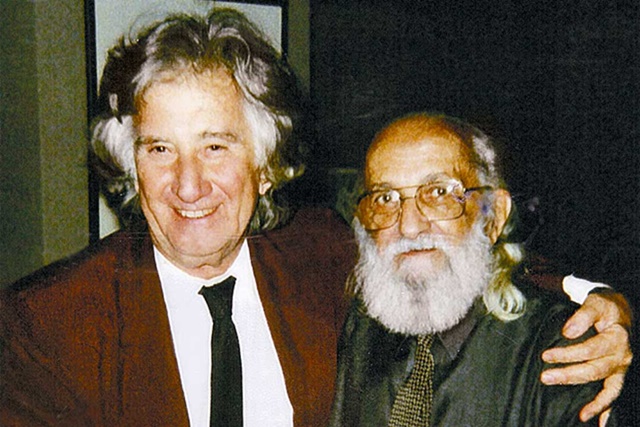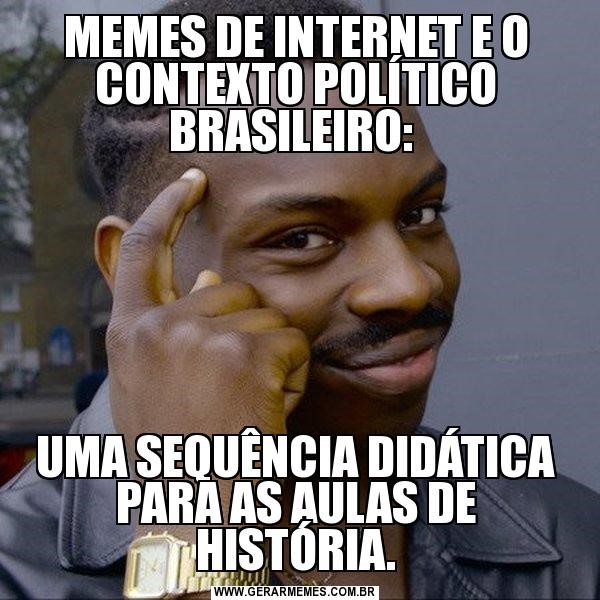O privatismo como obstáculo à educação para a democracia
Marcelo de Oliveira Souza
Licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), Professor de Sociologia na Rede Pública do Estado do Maranhão.
E-mail: ibnachams@gmail.com
INTRODUÇÃO
“[…] quanto às competências individuais que compõem as competências organizacionais, vê-se que, por um lado, a organização transfere seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais; por outro lado, as pessoas, ao desenvolver sua capacidade individual, transferem para a organização seu aprendizado e a fortalecem para enfrentar novos desafios.” (SÃO PAULO, 2014b, p. 11)
A epígrafe poderia ter sido retirada de qualquer manual de administração de empresas. Consta, contudo, de uma publicação oficial do governo do Estado de São Paulo (2014) o “Modelo de gestão de desempenho das equipes escolares”, destinado a orientar a avaliação de professores, coordenadores e diretores das escolas de ensino integral paulistas. O paralelismo com a retórica da empresa não é fortuito, foi possibilitado por um longo processo de interpenetração entre o Estado e a lógica empresarial o que culminou — com a condescendência do Estado — no sequestro da administração pública pela racionalidade instrumental e contábil do mundo do sistema. No que toca à educação para a democracia, um efeito importante desse processo é o esvaziamento do sentido público da educação — representado pela desresponsabilização da autoridade pública sobre a elaboração da política pública — o que, por sua vez, compromete a construção de uma escola voltada à formação para os valores republicanos e à formação para a tomada de decisões políticas (BENEVIDES, 1996), é dizer, de uma escola voltada à educação para a democracia. O ponto de fuga deste texto será o modelo de gestão das escolas que participam do programa de ensino integral do estado de São Paulo, mais precisamente, o documento que normatiza a gestão de desempenho da equipe escolar naquelas unidades (SÃO PAULO, 2014b). Pretende-se aqui analisar como um aspecto da estrutura organizacional da escola — seu modelo de gestão — se insere na construção de uma escola democrática e, consequentemente, para a educação para a democracia. Embora a estrutura organizacional da escola não garanta a educação para a democracia, ela dá forma a um de seus pressupostos, a educação democrática, condição necessária, mas não suficiente da educação para a democracia (BENEVIDES, op. cit.).
BREVE HISTÓRICO DO PRIVATISMO
Não podemos deixar de notar que é por aproximações e afastamentos que se dará a relação entre as dimensões pública — estatal, ao menos — e privada que irá constituir a forma escolar no Brasil. O período que compreende a ditadura militar e a década de 1990 — caracterizada pelo viés neoliberal do Executivo Federal — será pródigo no que se convencionou chamar de privatismo (CUNHA, 1995). Entendido enquanto “pôr a administração pública a serviço de grupos particulares, sejam econômicos, religiosos ou políticos partidários” (CUNHA, 1995, p. 11), o privatismo, no que tange à educação, estabeleceu tendências para um modus faciendi ainda em vigor nas políticas públicas levadas a cabo atualmente, notadamente, nas políticas públicas para a educação conduzida pelo estado de São Paulo. Se durante a ditadura houve a implosão de um projeto de educação pública (aí não somente estatal) que começava a dar frutos ao mesmo tempo que abriu-se o caminho para os arautos do privatismo (CUNHA & GOES, 1996), na década de 1990 haverá o reforço dessa perspectiva na educação pavimentando a senda para a entrada das empresas no interior da escola e para a captura da escola por um ethos corporativo.
O avanço do ideário privatista e a penetração de seus representantes em esferas decisórias de onde partem as políticas públicas de educação — que se verifica no país especialmente a partir da década de 1960 e que se aprofunda na década de 1990 — pode ajudar a compreender o estado atual de incorporação pelas escolas paulistas de uma lógica cada vez mais próxima e afeita à lógica empresarial, de modo a trazer para a realidade de suas questões organizacionais a racionalidade da empresa privada.
A década de 1960 será um dos marcos para as disputas entre os defensores da escola pública e os defensores dos interesses da escola privada, ou seja, da escola enquanto empresa. Já no início do período, em dezembro de 1961, o embate entre as duas concepções de escola dá origem à Lei de Diretrizes e Bases que, nas palavras de Góes:
[…] terminou sendo uma conciliação dos projetos Mariani e Lacerda[1]. Assim, o ensino no Brasil é direito tanto do poder público quanto da iniciativa privada (art. 2.º). A gratuidade do ensino, conquista constitucional, fica sem explicitação. Abre-se espaço para o Estado financiar a escola privada (art. 95). (CUNHA & GOES, 1996, p. 14).
Ainda na toada de atender aos interesses privatistas, a LDB de 1961 transfere aos conselhos estaduais e municipais de educação, prerrogativas antes concentradas no executivo federal e nos executivos estaduais, assegurando também a livre escolha dos membros dos conselhos pelo presidente da república e pelos governadores dos estados. Essa escolha, importante ressaltar, já era permeada pela pressão dos interesses privados (CUNHA, 1995, p. 12).
Não bastasse a representação legal dos interesses privatistas na LDB, o golpe de 1964 abate-se sobre a educação de modo a interromper a crescente manifestação das experiências populares nesse campo. O período é caracterizado pelo tecnicismo, pela permanência da teoria do capital humano orientando as políticas educacionais, pelos acordos de ajustamento às tendências internacionais em educação (MEC/USAID, MEC/BIRD ), pela restrição da oferta da rede pública de ensino e pelo correlato aumento da oferta do ensino em instituições privadas entre outros. Todas essas variáveis aprofundam a interpenetração entre Estado e os interesses privados, contribuindo para a dissolução da ideia de uma escola verdadeiramente pública.
A década de 1990 favorece os interesses privatistas na medida em que o neoliberalismo que a embala desenha um cenário de crise na educação que se instaura “pelo caráter estruturalmente ineficiente do Estado para gerenciar as políticas públicas.” (GENTILI, 1996: 18) Daí que a empresa — tida como o lugar da absoluta competência — pode assumir esse lugar e oferecer serviços educacionais à população, transferindo a educação da esfera da política para a esfera do mercado, questionando o seu status de direito e reduzindo-a ao status de propriedade (GENTILI, 1996) ou mercadoria e ser consumida. Nessa década as tendências de avaliar a qualidade do ensino — leia-se o resultado dos serviços educacionais — e a subordinação da educação às necessidades estabelecidas pelo mercado de trabalho se erigem enquanto eixos da política educacional. Também é nesse momento que o entendimento da dinâmica da escola enquanto empresa se estabelece mais fortemente e ocorre a admissão da lógica da empresa produtiva à escola, no que se convencionou chamar de pedagogia da Qualidade Total, na qual transferem-se para “a esfera escolar os métodos e as estratégias de controle de qualidade próprios do campo produtivo.” (GENTILI, 1996, p. 33). Os anos noventas ainda serão marcados por um retraimento do Estado no que toca à educação, uma desobrigação do Estado com relação ao oferecimento de direitos ou bens públicos relacionados à educação. O papel do Estado na disponibilização dos serviços públicos é novamente ressignificado. Isso corresponde à abertura de um lucrativo mercado educacional mas também ao fortalecimento de entidades associadas a grandes grupos econômicos que começam a estruturar as políticas que recairão sobre as escolas. É nesse contexto de consolidação das posições privatistas em educação que encontraremos as escolas paulistas do Programa Ensino Integral.
UM ASPECTO DO PRIVATISMO PAULISTA: PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
É notável a presença da empresa privada na condução e configuração das políticas públicas realizadas pelo governo do estado de São Paulo, mantendo uma tendência da década de 1990 de redimensionamento do papel do Estado enquanto produtor e promotor dessas políticas de modo a configurar atualmente uma quase terceirização de sua produção, com especial atenção à questão da gestão interna da escola. São representativos desse fenômeno as diversas OSCIP, ONG, institutos e empresas[2] atuando em parcerias com a Secretaria de Estado da Educação. Soma-se a isso a fortíssima representação da escola privada na composição do Conselho Estadual de Educação — órgão deliberativo não sujeito ao controle popular por ter seus membros indicados pelo executivo estadual.
O privatismo nas escolas plasma-se — diretamente — pela atuação das empresas em seu interior, como no caso das parcerias, ou — indiretamente — pela incorporação dos princípios da empresa produtiva pela Secretaria de Educação e posterior imposição desses princípios à escola. Essa atuação se dá especialmente sobre a gestão interna da instituição escolar. Identifica-se na gestão um problema[3] e, como solução, sugere-se um modelo tomado de empréstimo da empresa privada. Subjaz a esse entendimento a recorrente afirmação da ineficiência do público ou do Estado na boa condução dos bens públicos e a concomitante afirmação da empresa privada como o lugar da excelência. Segundo essa perspectiva, “os sistemas educacionais enfrentam, hoje, uma profunda crise de eficiência, eficácia e produtividade […]” cuja superação depende de “uma profunda reforma administrativa do sistema escolar orientada pela necessidade de introduzir mecanismos que regulem a eficiência, a produtividade, a eficácia, em suma: a qualidade dos serviços educacionais.” (GENTILI, 1996).
Desta maneira, o interesse sobre a gestão da escola coloca-se a partir de uma ênfase — pelo discurso privatista — nos meios como a educação é gerenciada em detrimento de seus fins e natureza. Assim, é mantido e reforçado o questionamento estabelecido durante a década de 1990 (VIEIRA, 1995) sobre o papel do Estado na condução do sistema escolar e em sua capacidade de resposta às demandas educativas. Abrem-se, então, as portas da escola à empresa como se esta fosse um agente capaz de ocupar o espaço deixado pelo Estado. É representativa dessa concepção do lugar do Estado na formulação de políticas públicas, a fala da Secretaria de Educação de São Paulo com relação ao seu programa de ensino integral:
O cenário da sociedade contemporânea aponta a necessidade premente de repensar o atual modelo de escola e redesenhar o papel que essa instituição deve ter na vida e no desenvolvimento do jovem do século XXI. Essa necessidade implica mudanças na abordagem pedagógica, na organização curricular e na ampliação da permanência dos alunos na escola, na gestão escolar e no regime de trabalho dos educadores. Diante desse desafio, a SEE-SP buscou inspiração em experiências de outros países e outras redes públicas de ensino, bem como em suas próprias experiências, encontrando no Ginásio Pernambucano um modelo de escola de educação integral que atende a essa necessidade. […] Esse modelo foi a referência para o desenvolvimento do Programa Ensino Integral, consideradas as adequações necessárias à realidade da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. (SÃO PAULO, 2014a)
O Ginásio Pernambucano, de que trata o excerto anterior, é a mais antiga escola de Pernambuco, uma das mais antigas do Brasil. Fundado em fevereiro de 1825, a instituição teve seu nome e seu lugar de funcionamento mudados diversas vezes, abrigou em suas salas boa parte da elite pernambucana, foi tombado pelo Condephaat e considerado patrimônio da Humanidade pela UNESCO (SILVA, LIMA E FILHO, s/d), e, determinante para sua escolha como modelo para o ensino integral paulista, o Ginásio Pernambucano, a partir dos anos dois mil, passa por uma intervenção de um grupo de empresários (alguns dos quais ex-alunos do colégio) interessados, num primeiro momento, em recuperar sua estrutura física. A atuação dos empresários na escola, contudo, não parou na reforma do edifício. Se entre 2000 e 2002 houve a restauração das instalações físicas, a recuperação de mobiliário, a compra de equipamentos para laboratórios e biblioteca, a partir de 2003 haveria “a recuperação da ‘alma’ da instituição, através de um novo modelo de gestão e um novo modelo pedagógico” (SILVA, LIMA E FILHO, op. cit.). Nesse momento entra em cena o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), entidade privada sem fins lucrativos que estimula a ação da classe empresarial dadas suas ligações com fundações e empresas com projetos em educação.[4]
O ICE é quem concebe a escola de ensino médio em tempo integral em Pernambuco e a implanta no Ginásio Pernambucano em 2004. No momento da intervenção no Ginásio Pernambucano o ICE era presidido por Marcos Magalhães, presidente da Philips e ex-aluno do colégio. No ano anterior pelo decreto n.º 25.596/03, o governo do estado de Pernambuco cria o Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano. A partir desse momento, junto ao Ginásio Pernambucano, ao Estado caberá “o custeio dos salários dos professores, equipe administrativa, alimentação, livros e uniformes, ou seja, recursos humanos, físicos e financeiros” e ao empresariado, representado pelo ICE, caberá “implantar o novo modelo de gestão”, contribuindo com a escola “a partir de suas habilidades em gerenciar, planejar, executar e administrar orçamentos.” (ICE, op. cit.). É assim que o Ginásio Pernambucano se torna projeto piloto e modelo para as escolas de ensino integral daquele estado. Dessa maneira, um projeto empresarial para uma escola pública se torna modelo e ponto de irradiação para as demais escolas pernambucanas e, por meio do ICE, para as escolas de ensino integral paulistas, o que garante ao Instituto menção a sua atuação nos agradecimentos do documento que contém as diretrizes para o ensino integral de São Paulo (SÃO PAULO, 2014a).
Não é outro, senão o gerenciamento empresarial, que serve de modelo à administração prescrita para as escolas de ensino integral paulistas. Já no ingresso às escolas isso pode ser verificado, uma vez que elas têm seus quadros profissionais estruturados por meio de designações, isto é, diretores, coordenadores e professores assumem suas funções mediante indicação após serem aprovados por um processo seletivo realizado por meio de entrevistas cujo objetivo é “encontrar evidências do comportamento esperado (competências) ao explorar as experiências profissionais do candidato.” (SÃO PAULO, 2014b). Não é o concurso público que provê os quadros das escolas que participam do programa de ensino integral. Se o ingresso é pautado por uma lógica empresarial, a permanência não se furta a essa mesma racionalidade: para permanecer na escola, o diretor, o coordenador e o professor precisam ser aprovados em frequentes avaliações de desempenho baseadas em suas competências. Sem fazer qualquer distinção entre uma escola e uma empresa privada, a SEE/SP sustenta que no modelo de gestão das escolas integrais “os profissionais são selecionados, formados, avaliados, promovidos e desligados tendo como referência o Mapa de Competências da organização.” (SÃO PAULO, 2014b) Esse processo é justificado pela Secretaria pelo fato de ele ser necessário para “potencializar o desenvolvimento desses profissionais para o efetivo desempenho de suas atribuições e, por consequência, alcançar os objetivos de formação integral dos alunos.” (SÃO PAULO, 2014b)
Para balizar esse processo, a Secretaria de Educação edita em 2014 um documento intitulado Modelo de gestão de desempenho das equipes escolares. Excetuando-se a contextualização do modelo de gestão de pessoas adotado pela SEE/SP, a quase integralidade da publicação versa sobre o modo de avaliar diretores, coordenadores e professores e dar as devolutivas da avaliação. O documento traz também tabelas com os itens a serem avaliados, as competências a serem desenvolvidas, as formas de encaminhamento dos resultados obtidos nas avaliações etc., de modo a tornar-se um manual para os avaliadores e o gestor da escola. Boa parte do modelo de gestão da escola estrutura-se a partir dos subsídios fornecidos pela sucessão das seguintes etapas: avaliação de competências, avaliação de resultados, consolidação da avaliação, devolutiva, plano individual de aprimoramento e formação (PIAF) e acompanhamento do PIAF.
Emblemática da subsunção da escola à lógica da empresa é a forma pela qual é feita a consolidação dos resultados da avaliação de seus agentes. A partir da pontuação alcançada nas avaliações de competências e nas avaliações por resultado, os trabalhadores da escola serão alocados em algum dos quadrantes da matriz reproduzida a seguir:
 Fonte: SÃO PAULO, 2014 , p. 26.
Fonte: SÃO PAULO, 2014 , p. 26.
Na fala da SEE/SP:
basicamente tudo o que pode ser localizado sobre a matriz nine box concentra-se no cruzamento de dois eixos — potencial e performance — e é usualmente utilizado na Gestão de Pessoas para evidenciar quais são os colaboradores que estão prontos para um processo de crescimento na organização ou sucessão. No Programa Ensino Integral, seria o equivalente a considerar, com base nesses dois eixos, os professores que têm condições de ocupar as funções de gestão na unidade escolar, de PCA[5] a Diretor da escola, por exemplo, desde que possuam os requisitos mínimos. (SÃO PAULO, 2014b, p. 26. Grifo ) .
Tal e qual numa empresa, o destino do trabalhador na escola de ensino integral paulista começa a ser decidido dependendo de sua colocação numa tabela, o que pode variar desde “riscos na manutenção do profissional” até “potencial além da função”.
O prosseguimento na leitura do Modelo de gestão de desempenho das equipes escolares (SÃO PAULO, 2014b) permite fazer mais algumas inferências no que toca à similaridade de procedimentos da escola e da empresa.
O controle sobre o trabalho e sobre o ritmo de trabalho dos atores no interior da escola é significativamente aumentado dadas as diversas avaliações a que se submetem, especialmente a um modelo de avaliação 360º, que “trata-se de considerar a perspectiva dos gestores, dos professores e dos alunos na avaliação de competências de cada educador e suas interdependências” (SÃO PAULO, op. cit., p. 22). Em que pese a avaliação pelos pares e pelos alunos, é importante ressaltar que o processo avaliativo concentra-se nas figuras do diretor e do supervisor de ensino — os gerentes do processo — que possuem em seus perfis de acesso ao Sistema de Avaliação “o acompanhamento da participação dos diversos atores da escola na avaliação.” (SÃO PAULO, op. cit.) Evidencia-se também a responsabilização individual do avaliado no que toca ao seu aprimoramento e formação quando da elaboração e cumprimento do seu PIAF:
[…] é fundamental esclarecer que o principal responsável pelo desenvolvimento do profissional é ele mesmo: quando comprometido, busca meios para aprimorar sua atuação, inclusive autonomamente. Ao contrário, se ele não tem interesse em se desenvolver, por mais que seu gestor o apoie, indicando alternativas de aprimoramento a sua disposição, pouco será aproveitado e, portanto, mais lento será seu desenvolvimento. (SÃO PAULO, op. cit.)
Um outro ponto a ser considerado é a burocratização da escola e a divisão da classe docente pela introdução de um elemento novo na hierarquia escolar: o modelo adotado pela secretaria de educação cria a figura do PCA, professor coordenador de área, figura a quem os professores da escola, separados por áreas (linguagens, ciências humanas, ciências exatas e biológicas), devem se reportar. Essa nova configuração dos agentes da escola estrutura os fluxos em seu interior: o professor não acessa diretamente o diretor ou o coordenador pedagógico, acessa o coordenador de área para que este acesse o diretor ou o coordenador. É o mesmo coordenador de área que retorna com a posição da direção da escola para o professor. Por essa configuração dos atores na escola, o trabalho coletivo dá lugar a um trabalho segmentado; há, por exemplo, reuniões em separado entre os professores coordenadores de área e a gestão da escola sem a presença dos demais professores ainda que nessas reuniões temas relativos ao trabalho no interior da sala de aula sejam debatidos e os posicionamentos em relação a eles sejam decididos. Como numa empresa, as decisões que afetarão a todos são tomadas sem que as pessoas sobre as quais essas políticas recairão sejam ouvidas ou participem do processo decisório.
Cabe uma última observação quanto à bibliografia de referência para o documento: dos seis autores citados, dois, André Luiz Fischer e Joel Souza Dutra são professores da FEA/USP com formação em administração de empresas; um, Rogério Leme,[6] é diretor de uma consultoria que presta serviços a “empresas públicas e privadas”, atuando em “gestão de pessoas, desenvolvimento humano, educação corporativa e estratégia empresarial”, os outros dois, Gary Hamel e Coimbatore Prahalad foram professores de administração em universidades norte-americanas. Não há na bibliografia qualquer menção a autores oriundos da pedagogia ou cujo campo de estudo seja a educação.
UMA EMPRESA DEMOCRÁTICA?
O anteriormente exposto evidencia uma estrutura organizacional altamente verticalizada, centralizada e burocratizada que limita a agência dos atores em seu interior ao impor sobre eles um modelo por eles não produzido e por eles não modificável. Nesse sentido é possível perceber a confirmação da escola como o lugar restrito à execução das políticas educacionais tamanha a diretividade do modelo adotado pela SEE/SP, diminuindo o espaço que a escola tem para constituir-se enquanto partícipe na elaboração das políticas que sobre ela se precipitam.
O enquadramento dos profissionais da escola em expectativas de produtividade, sua admissão na escola por meio de entrevistas que buscam um “perfil” ideal, a possibilidade da exclusão daquele que não se enquadra — o que se pode traduzir na eliminação da divergência, diminuindo a pluralidade do ambiente escolar — se somam ao quadro de uma escola que toma de empréstimo características da empresa privada para constituir-se enquanto instituição pública. É essa mesma escola que permite a um pequeno grupo decidir sobre situações e ações que afetam a maioria e que abriga uma estrutura que não admite nenhum tipo de controle social posto que fora produzida por uma entidade privada cujos parceiros são institutos do Itaú, da Jeep, da Natura, de Jorge Paulo Lemann e em cujo livreto institucional afirma que o seu papel é: “[…] influenciar o setor público a atuar de maneira estratégica nas políticas públicas, de modo a concebê-las, ampliá-las e assegurar a sua qualidade, perenizando-a […]” (ICE, s/d.).
Essas são apenas algumas das características das escolas do Programa Ensino Integral paulista. Não nos surpreende que todo o processo de colonização do Estado pela esfera privada — é dizer, alguns agentes econômicos, em especial, grandes instituições econômicas privadas — tenha culminado numa escola que pode ser descrita ou confundida com uma empresa. Acontece que uma empresa é por natureza antidemocrática: as relações entre os indivíduos são verticalizadas, portanto, é a desigualdade que funda a relação entre eles, a agência dos indivíduos é limitada — com exceção dos chefes — o questionamento não é permitido, é dissimulado ou desincentivado, o controle da agenda da instituição é restrito a uma elite, não se submete a todos, o que limita a participação, não é o convencimento ou a persuasão que produzem os consensos numa empresa, mas muitas vezes recorre-se a constrangimentos, violências. A estrutura empresarial tem bases autoritárias.
Citando Dewey, Benevides diz que uma sociedade democrática não requeria apenas o governo da maioria, mas a possibilidade de desenvolver, em todos os membros, a capacidade de pensar, participar na elaboração e aplicação das políticas públicas e ainda poder julgar seus resultados (BENEVIDES, 1996). Quais são as possibilidades de uma escola imbuída de um espírito empresarial proporcionar aqueles processos de que nos fala o filósofo estadunidense? Como pode uma escola contribuir para a educação para a democracia se seus pilares organizacionais se orientam em sentido muito diverso? Não pode, a não ser como contraexemplo. A dissolução do caráter público da educação — pela construção e condução das políticas aplicadas aos bens públicos pelos agentes privados — constitui-se como um obstáculo a uma educação para a democracia ao mesmo tempo que edifica o quadro atual de normativas privadas travestidas de políticas públicas.
No que diz respeito à educação para a democracia, ainda cabe indagar sobre os efeitos socializadores de uma lógica dessas para o conjunto de pessoas que vivem sob essa realidade. Quais serão as disposições para pensar, agir e sentir estimuladas por um ambiente assim? Quão favoráveis ao estabelecimento de uma educação para a democracia são os componentes de competição, controle e vigilância que apresenta essa escola? Quão efetivos para a dissolução da solidariedade entre as pessoas, reduzindo-os a uma existência individualista e segmentada, são os processos que estão acontecendo no interior de uma escola com essas características?
Se a década de 1960 e a ditadura militar foram responsáveis por resguardar os interesses dos empresários da educação e por garantir-lhes mercado — especialmente pela contenção da rede pública de ensino —, a década de 1990 abrirá o caminho para que a lógica empresarial ingresse no interior da escola. Promotor desse processo, o Estado confunde a escola com a empresa e a concebe enquanto produtora de mercadorias — de instrução dos alunos, de indivíduos capacitados para o mercado[7] etc. — o que subverte o caráter público da instituição, ainda mais quando ela assume uma forma corporativa. A racionalidade instrumental, própria da empresa, captura a escola e se veste como o modelo de gerência moderna e eficiente frente a uma administração pública antiquada e decadente, afastando ainda mais a possibilidade de uma efetiva apropriação social da escola, de uma aproximação entre escola e sociedade, entre escola e comunidade, entre a escola e as pessoas que estão nela, uma vez que a ideia de público está desfeita. O aprofundamento desse processo poderia levar, no limite, a uma desresponsabilização do Estado com relação à educação em função da centralidade das empresas em sua administração ou confecção das políticas públicas educacionais, finalmente, capturada por um discurso competente formulado pela empresa, a escola se distancia de sua realização enquanto bem público e realidade pública.
REFERÊNCIAS:
BENEVIDES, M. V. M. Educação para a democracia. Lua Nova, São Paulo, n. 38 pp. 223-237, dez. 1996.
CUNHA, L. A. Educação pública: os limites do estatal e do privado. In: OLIVEIRA, R. P. (Org.). Política educacional: impasses e alternativas. São Paulo: Cortez, 1995.
______; GOES, M. O golpe na educação. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.
GENTILI, P; SILVA, T. T. (Orgs.). Escola S.A.: quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. Brasília: CNTE, 1996.
INSTITUO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO (ICE). Livreto Institucional. Disponível em: <http://icebrasil.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Livreto_Digital_Institucional.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2018.
SÃO PAULO (Estado). Diretrizes do Programa Ensino Integral. São Paulo: Secretaria da Educação, 2014a.
______. Modelo de gestão de desempenho das equipes escolares. ______: ______, 2014b.
SILVA, M. R. F; LIMA, R. C. M; FILHO, G. B. O modelo educacional do centro de ensino experimental ginásio pernambucano. Recife: UFPE, . Disponível em: <https://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2008.2/o%20modelo% 20educacional%20do%20centro%20de%20ensino%20experimental%20ginsi.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015.
educacional%20do 20centro%20de%20ensino%20experimental%20ginsi.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015.
VIEIRA, S. L. Neoliberalismo, privatização e educação no Brasil. In: OLIVEIRA, R. P. (Org.). Política educacional: impasses e alternativas. São Paulo: Cortez, 1995.
[1] Substitutivo ao projeto de Lei apresentado pela comissão organizada por Clemente Mariani que deslocava o eixo da discussão para a possibilidade de o Estado monopolizar a educação, postulando a “liberdade de ensino” que poderia ser traduzida como livre iniciativa na área de educação. Estabelecia que a educação dos filhos era direito da família, assim, caberia aos pais ou responsáveis optar pelo ensino público ou privado para os filhos. O texto do substitutivo favorecia sobremaneira as escolas privadas.
[2] São representativos dessa interpenetração Estado/Empresa o ICE, Instituto de Corresponsabilidade pela educação, responsável pela formulação do modelo de gestão e pelo treinamento para a implantação das escolas de tempo integral paulistas; o Parceiros da Educação, OSCIP que estabelece diretamente com as escolas parcerias cujo objetivo é dar apoio pedagógico, apoio à infraestrutura, apoio à gestão, entre outros.
[3] Cf. decreto n.º 57.571, de 2 de dezembro de 2011, que institui Programa Educação – Compromisso de São Paulo. A gestão da escola — eficiente e eficaz, como diz o texto da lei — é destacada como importante elemento para uma educação de qualidade. Veja-se A Introdução das Diretrizes do Programa Ensino Integral.
[4] Cf. ICE. Disponível em: <http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php/instituto/o-que-e/>
[5] Professor coordenador de área.
[6] Disponível em: <http://www.lemeconsultoria.com.br/rogerio-leme/>. Acesso em: 17 maio 2018.
[7] Dizem as diretrizes para o Ensino Integral paulista: “Aprender a fazer é uma competência a ser desenvolvida para ir além da aprendizagem de uma profissão, mobilizando conhecimentos que permitam o enfrentamento de situações e desafios relevantes e significativos do cotidiano: essa competência é também conhecida como “competência produtiva”. No Programa Ensino Integral ela diz respeito, também, à aquisição das habilidades básicas, específicas e de gestão que possibilitam à pessoa adquirir uma profissão ou ocupação. Aprender a praticar os conhecimentos adquiridos; habilitar-se a atuar no mundo do trabalho pós-moderno desenvolvendo a capacidade de comunicar-se, de trabalhar com os outros, de gerir e resolver conflitos e tomar iniciativa.” (SÃO PAULO, 2014a).
SOUZA, Marcelo de Oliveira. Revista Brasileira de Educação Básica, Belo Horizonte – online, Vol. 2, Número Especial Educação e Democracia, outubro, 2018, ISSN 2526-1126. Disponível em: . Acesso em: XX(dia) XXX(mês). XXXX(ano).
Crédito da imagem destacada: Marcos Santos/USP